TCU e EFPCs com patrocÃnio estatal: urge uma solução harmônica

Por Adacir Reis *
Para dar mais eficiência à fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar com patrocÃnio público ou estatal, é preciso construir uma solução harmônica em torno das competências do Tribunal de Contas da União - TCU.
Atualmente, como se verá a seguir, o TCU se considera competente para fiscalizar diretamente as entidades previdenciárias com patrocÃnio público ou estatal. Mas nem sempre foi assim.
Em 2011, após um debate de vários anos com idas e vindas, o Plenário do TCU ratifi
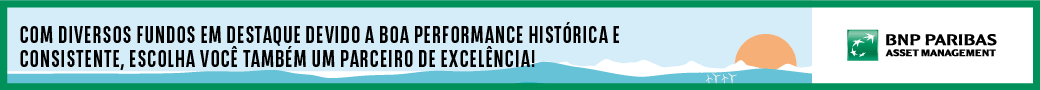

-23abr.jpg)
-20out.jpg)
-23mar.jpg)
-19mai.jpg)
-13mar.jpg)
-21dez.jpg)
-22dez.jpg)
-18ago.jpg)